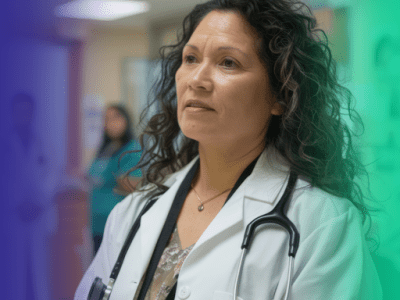No mês da Consciência Negra, é impossível falar de saúde sem falar de raça. No Brasil, cor da pele e racismo não são apenas temas “sociais”: são determinantes centrais do adoecimento, do sofrimento psíquico e até de quem vive ou morre.
Para quem está no consultório, na enfermaria ou na unidade básica de saúde, a pergunta é direta: sua consulta médica tem cor? Ou, dito de outro modo: o modo como você acolhe, escuta, investiga e trata muda, ainda que de forma sutil, quando o paciente é negro?
Este texto convida médicos e médicas a encarar o racismo como questão clínica, não apenas ética ou política. E a usar o mês da Consciência Negra como um marco para revisitar práticas e pactuar mudanças na rotina do cuidado.
O Brasil tem uma política específica para enfrentar o racismo na saúde: a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), instituída em 2009. Ela parte de um reconhecimento explícito: racismo, desigualdades étnico-raciais e racismo institucional são determinantes sociais das condições de saúde, e precisam ser enfrentados se quisermos falar seriamente em equidade no SUS.
Os números confirmam o que a experiência clínica já mostra:
- A mortalidade materna entre mulheres pretas no Brasil é, de forma consistente, cerca de duas vezes maior que entre mulheres brancas, mesmo quando se considera a última década.
- Há desigualdades no acesso a pré-natal adequado: na pandemia, a queda na proporção de gestações com número adequado de consultas foi mais que o dobro entre mulheres negras em comparação às brancas.
- Em diferentes estudos, usuários negros relatam mais frequentemente experiências de desrespeito, desconfiança, omissão de informação e demora no atendimento, configurando racismo institucional em serviços públicos e privados.
Esses dados não se explicam por “genética” ou “estilo de vida individual”. Eles apontam para um padrão estrutural: pessoas negras adoecem e morrem mais porque vivem sob maior carga de violência, pobreza e discriminação, inclusive dentro do sistema de saúde.
Trauma racial e estresse tóxico: quando o corpo registra o racismo
O conceito de trauma racial ajuda a nomear algo que muitos pacientes negros descrevem, mas que nem sempre é reconhecido como problema de saúde: o efeito cumulativo de episódios de humilhação, suspeita, violência verbal, física ou simbólica, que se repetem ao longo da vida.
Esse trauma não é apenas “emocional”. A exposição crônica ao racismo funciona como um tipo de estresse tóxico: ativa de forma prolongada os sistemas de resposta ao estresse, altera sono, apetite, níveis de cortisol e, ao longo do tempo, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, metabólicas e transtornos mentais.
Na prática clínica, isso pode aparecer como:
- Hipertensão de difícil controle em pessoas jovens, com história de múltiplas situações de violência e discriminação.
- Quadros ansiosos e depressivos associados a racismo no trabalho, na escola, na rua e nos serviços de saúde.
- Crianças e adolescentes com “timidez”, baixo rendimento, irritabilidade ou “dificuldade de comportamento” que, ao serem ouvidos, relatam episódios repetidos de racismo na escola e na comunidade.
Se não perguntamos sobre isso, fica parecendo que são apenas “questões individuais” ou “problemas da personalidade”. Mas o corpo está reagindo a um ambiente sistematicamente hostil.
Onde o racismo aparece na prática
O artigo “A sua consulta tem cor?” publicado na Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade propõe uma reflexão dura, mas necessária: o racismo atravessa as relações clínicas mesmo quando não é nomeado, e muitas vezes justamente quando não é nomeado.
- Acolhimento e triagem
- Quem é visto como “caso urgente” na porta?
- Quem espera mais tempo?
- Existe diferença na forma de tratamento (tom de voz, tipo de chamamento, uso de diminutivos, broncas) quando o paciente é negro?
- Construção da hipótese diagnóstica
- Naturalizamos determinados diagnósticos em corpos negros (“é só ansiedade”, “é uso de substância”) sem investigar adequadamente outros agravos?
- Descartamos queixas de dor com mais frequência? Estudos internacionais mostram que pacientes negros recebem menos analgesia para a mesma intensidade de dor, por estereótipos sobre maior tolerância ou suspeita de busca por opioides.
- Comunicação e decisão compartilhada
- Oferecemos menos explicações detalhadas, menos opções de tratamento ou fazemos menos checagem de entendimento com pacientes negros?
- Usamos mais termos autoritários (“tem que”, “se não fizer, vai piorar”) do que convites à parceria?
- Registro e encaminhamentos
- Há diferença em quem ganha encaminhamentos para especialistas ou exames de maior complexidade?
- Registramos adequadamente situações de violência racial que chegam ao serviço?
Nada disso depende de “má intenção”. São padrões aprendidos numa sociedade racista, que a formação médica raramente questiona, e que acabam gerando práticas desiguais.
O que médicos podem fazer
Não basta “não ser racista”: na clínica, é preciso atuar de forma ativa para reduzir danos e desigualdades. Alguns movimentos concretos:
1. Nomear o racismo como causa de adoecimento
- Perguntar, de forma sensível, sobre experiências de discriminação:
“Você já sentiu que foi tratado de forma diferente, pior, por causa da sua cor ou da sua origem?”
- Validar o relato, sem minimizar:
“Isso que você passou é grave, e faz sentido que seu corpo reaja assim. O racismo também adoece.”
Incluir o racismo como elemento na linha de cuidado (por exemplo, ao discutir gatilhos de crises ansiosas ou depressivas) é uma forma de tirar o problema do indivíduo e colocá-lo no contexto.
2. Ampliar o olhar para determinantes sociais
- Registrar raça/cor de forma correta e respeitosa (autodeclaração), e utilizar essas informações na análise dos casos e dos dados da unidade.
- Perguntar sistematicamente sobre moradia, renda, trabalho, acesso a transporte e alimentação – dimensões que frequentemente atingem de forma mais dura a população negra.
- Meus pacientes negros demoram mais a receber determinados diagnósticos (por exemplo, de doenças autoimunes, transtornos mentais, câncer)?
- Há diferença na intensidade e frequência de prescrição de analgésicos, antidepressivos ou exames complementares por raça/cor?
- Em obstetrícia, estou atento às evidências de maior risco para mulheres negras e ajustando condutas de forma vigilante, sem naturalizar óbitos como “fatalidades”?
4. Fortalecer estratégias de cuidado do trauma racial
- Reconhecer que pacientes negros em sofrimento psíquico podem estar vivendo efeitos cumulativos de trauma racial.
- Encaminhar, quando possível, para psicoterapia com profissionais que tenham formação em terapia racial ou abordagem sensível ao tema.
- Incorporar práticas de cuidado em saúde mental que valorizem identidade, cultura e redes de apoio comunitárias.
Médicos negros e a sobrecarga do racismo
Médicos e estudantes negros também são expostos diariamente a racismo nas faculdades, nos hospitais e nas relações com pacientes e equipes. Relatos de solidão, invisibilidade, questionamento de competência e microagressões são frequentes na literatura sobre formação médica.
Para essas pessoas, o mês da Consciência Negra não é apenas um convite à reflexão, mas também um lembrete de autocuidado:
- Reconhecer o impacto emocional de estar sempre “representando” ou “sendo o único” em espaços majoritariamente brancos.
- Buscar redes de apoio (grupos de estudantes e profissionais negros, coletivos, supervisão e terapia).
- Lutar por mudanças institucionais não deve significar assumir sozinho toda a responsabilidade pela pauta antirracista no serviço.
Para colegas não negros, a responsabilidade é dividir esse trabalho: ler, estudar, se posicionar, propor mudanças institucionais e apoiar ativamente os colegas negros.
Do consultório à política pública: a PNSIPN como ferramenta de trabalho
A PNSIPN não é um documento abstrato; ela traz diretrizes que podem orientar a prática de qualquer médico no SUS, em diferentes níveis de atenção. Entre suas marcas estão: reconhecer o racismo como determinante de saúde, incorporar a temática na formação e educação permanente em saúde e produzir conhecimento sobre racismo e saúde da população negra.
- Incluir o tema racismo e saúde em reuniões de equipe, educação permanente e discussão de casos.
- Propor protocolos que considerem vulnerabilidades específicas da população negra (por exemplo, na linha de cuidado da mulher, saúde mental, doenças crônicas).
- Utilizar dados da unidade estratificados por raça/cor para planejar ações (campanhas, busca ativa, grupos específicos).
Como médicos, também temos papel de advocacy: participar de conselhos, sociedades de especialidade e espaços de decisão levando a pauta da equidade racial.
E agora? Começar pelo que está ao seu alcance
Talvez você não consiga, hoje, mudar a estrutura da sua instituição. Mas há perguntas que você pode se fazer já na próxima consulta:
- Estou ouvindo este paciente negro com a mesma atenção e abertura que ouviria um paciente branco?
- Estou levando a sério sua queixa de dor, seu relato de discriminação, seu sofrimento psíquico?
- O plano terapêutico que proponho leva em conta as barreiras concretas que ele enfrenta, inclusive aquelas produzidas pelo racismo?
No mês da Consciência Negra, o convite é sair do abstrato. Transformar “consciência” em prática. Reorganizar a consulta, o prontuário, a educação permanente e os critérios de decisão com a pergunta incômoda: A minha consulta tem cor? Se a resposta for “sim”, o próximo passo não é culpa ou paralisia, mas compromisso: reconhecer, estudar, escutar e mudar. É nisso que uma prática clínica antirracista começa e é disso que a população negra precisa, em novembro e o ano inteiro.
Gabriel Henriques Amorim é médico (CRM-SP 272307), especialista em Educação na Saúde pela USP e residente de Medicina de Família e Comunidade no Hospital das Clínicas da FMUSP. No blog da Manole, compartilha conteúdos práticos, baseados em evidências, voltados para o dia a dia do cuidado em saúde.
 Soft Skills na medicina
Soft Skills na medicina